O que significa dizer que alguém tem um transtorno mental? Em um post anterior, apresentando a relevância do problema mente-corpo para a psicopatologia, afirmei que transtornos mentais ao mesmo tempo são e não são transtornos cerebrais, deixando a reflexão sobre o que é um transtorno para um momento posterior. Nesse post, procuro algumas soluções para esse problema do transtorno mental.
(Alguns dos argumentos desse post estão melhor desenvolvidos em um artigo que escrevi, atualmente postado como preprint na plataforma SocArxiv).
- Teorias naturalistas das doenças e transtornos
- A definição de transtorno do DSM
- A construção social do transtorno mental
Teorias naturalistas das doenças e transtornos
No campo da saúde mental, existe um debate extenso sobre a natureza do sofrimento psíquico. A maior parte das pessoas que trabalham na área, bem como maioria dos usuários de serviços, concorda que os sofrimentos do corpo são doenças, em um sentido “clássico”: com algumas exceções, representam algum tipo de dano a um ou mais sistemas orgânicos, geralmente por um agente etiológico razoavelmente bem definido, e que produzem sintomas que representam disfunções fisiológicas. Podemos, como o filósofo e médico Georges Canguilhem, problematizar todas essas características das doenças físicas, mas por enquanto basta entender que essa é a concepção que a maior parte das pessoas tem. Mais importante: quando falamos de sofrimento psíquico, toda essa certeza desaparece, e parece não haver muito consenso sobre a natureza deste fenômeno.
Isso tem, em certo sentido, tanto raízes históricas quanto raízes políticas: se, por um lado, as chamadas doenças físicas passaram, a partir do século XIX, por um certo refinamento diagnóstico, com novas técnicas e achados de pesquisa confirmando os diagnósticos já presentes, o mesmo não acontece com os transtornos; muitas vezes, esses transtornos vêm e vão a depender de questões políticas. Por exemplo, até 1973 a homossexualidade figurava no DSM-II como um transtorno mental; a retirada não se deveu ao avanço na ciência da psicopatologia, mas resultou da pressão de ativistas LGBTQIA+. Esse exemplo mostra como as nosologias oficiais são contingentes, e não são necessariamente baseadas em qualquer elemento objetivo. Por isso, muitos profissionais e ativistas no campo da saúde mental veem com desconfiança a noção de que sofrimento psíquico e doenças físicas têm a mesma natureza.
Essa desconfiança, portanto, tem um “quê” de resistência à chamada medicalização, que pode ser definida como a expansão de soluções médicas para problemas não-médicos. De fato, a principal crítica que é feita ao DSM-5 (e sua versão revisada recentemente) é a de que esse manual é a “cara” da medicalização, ao expandir de maneira indiscriminada os diagnósticos para o que antes era considerado comportamento normal, como no caso do transtorno de ansiedade social (a “medicalização da timidez”), o luto prolongado (a “medicalização do luto”), e os transtornos do neurodesenvolvimento (a “medicalização da infância”).
Independente de considerarmos essas categorias diagnósticas em específico como válidas ou não, cabe a questão: qual é a natureza dos transtornos mentais que nos permitiria fazer esse debate? Uma resposta cada vez mais comum, principalmente nos movimentos pela despatologização, é a de que isso que chamamos de “transtorno mental” não é uma doença, porque, diferentemente das doenças físicas, não há uma base patológica objetivamente definida que possa ser demonstrada. Esse argumento parece ser derivado das teorias de Thomas Szasz, o expoente da “antipsiquiatria de Direita” que escreveu “O mito da doença mental”. Para ele, as doenças, por definição, são entidades objetivamente definidas que requerem anormalidades biológicas afetando tecidos ou órgãos, e que isso não pode ser demonstrado para as “doenças mentais”, já que não é possível que uma mente tenha lesões. Portanto, trata-se de um “erro categorial“. Para Szasz, o que a psiquiatria faz, ao chamar o sofrimento psíquico de “doença” é usar o vocabulário médico para inscrever um conjunto de comportamentos e experiências mal-definidos sob a égide da psiquiatria, quando na verdade esses comportamentos não seriam sintomas de uma doença, mas sim “problemas de vida” de ordem pessoal, social, ética, e política.
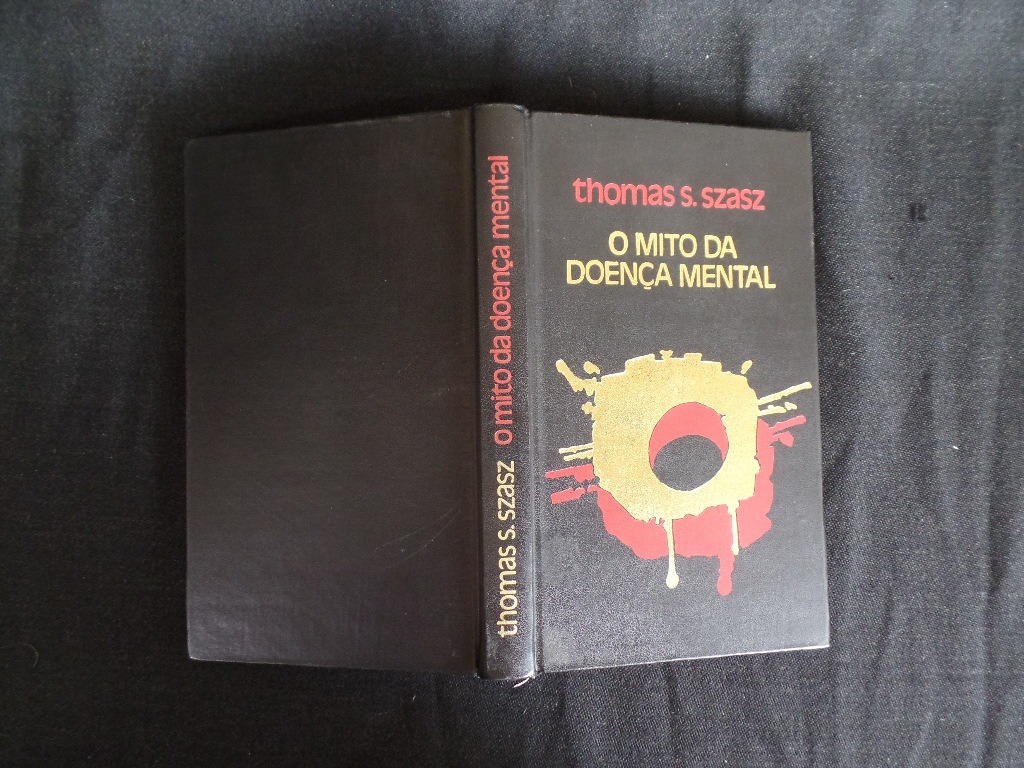
Um dos principais livros de Szaz, “O mito da doença mental”, expõe seus argumentos naturalistas.
Szasz apresenta uma interessante crítica do poder psiquiátrico ao apontar que os juízos sobre se um dado estado mental é ou não patológico não são baseados em alguma observação objetiva de sinais, mas a partir de um juízo normativo. Ou seja, uma norma de comportamento é estabelecida, e desvios dessa norma (como a homossexualidade, ou determinadas posições políticas) seriam consideradas doenças. Mas a crítica se assenta sobre bases ruins, por pelo menos dois motivos: (1) uma confusão em relação ao problema mente-corpo; e (2) uma concepção imprecisa das doenças físicas.1
Szasz afirma que falar em “doença mental” é cometer um erro de categoria: somente corpos podem apresentar lesões, e portanto não faz sentido falar em “doença mental”. O filósofo Thomas Schramme sugere que isso cria uma espécie de “eliminativismo”, em que a categoria “doença mental” eventualmente será eliminada quando entendermos que ou (a) aquilo que chamamos de “doença mental” é de fato uma doença do cérebro, com a identificação da base neuropatológica, ou (b) não existem doenças mentais, e todo o sofrimento psíquico a que damos esse nome na verdade é outra coisa. Essa última parece ser a posição de Szasz, mas é importante entender que, ao fim e ao cabo, sua teoria não é incompatível com a primeira posição!
Outro problema com esse modelo é que Szasz tem uma concepção imprecisa do que são doenças. O debate filosófico sobre a doença não é algo novo, e está longe de estar concluído. Mas a concepção “virchowiana” de que uma doença exige um processo patológico que impede a função de um sistema orgânico não se sustenta para muitas doenças do corpo: por exemplo, a hipertensão e a doença de Cushing são consideradas doenças, resultando de sistemas que estão em um estado estável, ainda que sub-ótimo. De maneira importante, a afirmação de que as chamadas doenças mentais não são doenças porque sua determinação é normativa (isso é, depende dos valores que indivíduos e sociedades assumem) escamoteia o fato de que a determinação de todas as doenças, físicas ou mentais, é normativa.
a afirmação de que as chamadas doenças mentais não são doenças porque sua determinação é normativa (isso é, depende dos valores que indivíduos e sociedades assumem) escamoteia o fato de que a determinação de todas as doenças, físicas ou mentais, é normativa.
Tweet
Nesse sentido, Szasz é uma espécie de “naturalista anômalo“: ele tem uma concepção objetivista estrita sobre as doenças físicas, afirmando que elas são resultado de uma lesão anatômica ou disfunção fisiológica demonstrável, ao mesmo tempo em que é um construtivista em relação aos transtornos mentais. Para os naturalistas, as doenças são disfunções biológicas objetivamente observáveis que causam danos. A dificuldade principal que as teorias naturalistas sobre doença enfrentam é que não é possível estabelecer uma base para afirmar a disfunção somente a partir da biologia. A teoria naturalista mais famosa é a de Christopher Boorse, que propôs que as doenças representam falhas na função típica da espécie, assumindo que a base para a definição do que é “típico da espécie” não só envolve aquilo que é mais frequente (i.e., em uma distribuição estatística normal), mas também algo que foi evolutivamente selecionado. Entretanto, nem a biologia evolutiva nem a genética estabelecem o que é “típico de uma espécie”, já que a biologia evolutiva é essencialmente uma ciência genealógica: pertencer a uma espécie (i.e., apresentar “o típico da espécie”) não tem a ver com similaridade qualitativa, mas com uma história evolutiva compartilhada. Boorse também afirma que outro possível ponto de definição do que é o “típico da espécie” são os valores médios de variáveis fisiológicas, conforme apresentados por livros de fisiologia; entretanto, como aponta Marc Ereshefsky, os livros de fisiologia “apresentam descrições idealizadas e simplificadas de órgãos, não a descrição de suas naturezas inerentes”2.

A definição de transtorno do DSM e do CID
Um problema importante, aqui, é que algumas dessas discussões são, em certo sentido, atropeladas pelas definições utilizadas pelos manuais. O DSM-5 apresenta uma definição explícita:
Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidade significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Uma resposta esperada ou aprovada culturalmente a um estressor ou perda comum, como a morte de um ente querido, não constitui transtorno mental. Desvios sociais de comportamento (p. ex., de natureza política, religiosa ou sexual) e conflitos que são basicamente referentes ao
indivíduo e à sociedade não são transtornos mentais a menos que o desvio ou conflito seja o resultado de uma disfunção no indivíduo, conforme descrito.
De maneira semelhante, o CID-11, da Organização Mundial de Saúde, descreve
Os transtornos mentais, comportamentais e de neurodesenvolvimento são síndromes caracterizadas por distúrbios clinicamente significativos na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo, que refletem uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento que fundamentam o funcionamento mental e comportamental. Esses distúrbios geralmente estão associados à angústia ou prejuízo em áreas pessoais, familiares, sociais, educacionais, ocupacionais ou outras áreas importantes do funcionamento.
Assim, na ausência de marcadores biológicos claros, o critério fundamental para identificar o que é ou não um transtorno não é sintomática, mas baseada nos conceitos de sofrimento ou incapacidade significativos. O DSM-5 busca se colocar como uma aproximação naturalista aos transtornos mentais, mas o critério de sofrimento ou incapacidade significativos mistura patologia com incapacidade, o que é problemático do ponto de vista do naturalismo. Os limites entre os transtornos, e o que é ou não considerado um transtorno, dependem do “significado clínico” – o quão “significativa” é a “perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento” depende do que consideramos como “perturbação” ou “disfunção”, e já vimos como é difícil fundar essas definições sobre qualquer base naturalista biológica.
A construção social do transtorno mental
Assim, parece ser impossível fundar a definição do que seria “disfunção” somente a partir de uma referência à biologia, o que torna o naturalismo insustentável. Um conjunto de teóricos, que podemos chamar de “normativistas” ou “construtivistas sociais”, insistem que o que define se um dado estado mental ou físico é uma disfunção ou não depende se essa característica é socialmente valorizada ou desvalorizada. Assim, precisamos fazer a distinção entre descrições de estado (a descrição de um dado estado mental ou físico) e afirmações normativas (afirmações de que um dado estado mental ou físico é patológico); para os construtivistas, as afirmações normativas não são derivadas diretamente das descrições de estado.
A filósofa Esa Díaz-León sugere que existem diferentes variedades de construção social; ela ressalta dois sentidos, o sentido causal e o sentido constitutivo, que podem ser aplicados ao termo:
Um objeto ou tipo é socialmente construído no sentido causal quando
fatores ou agentes sociais são causalmente responsáveis pela existência do objeto ou pela sua instanciação de propriedades correspondentes ao tipo social em causa. Por outro lado, um indivíduo ou propriedade F é socialmente construído no sentido constitutivo quanto é parte da definição daquilo que consiste ser-se um F, ou é parte da natureza de um F (i.e., o que faz que alguém seja F), que os Fs estão relacionados com agentes sociais ou fatores sociais.
Se pensarmos no caso dos transtornos mentais, podemos entender o construtivismo causal como a visão de que os sinais e sintomas de um transtorno são causados por fatores sociais e culturais, independente de se o resultado final desses fatores envolve ou não algum tipo de impacto neurobiológico. Já o construtivismo constitutivo pode ser entendido como a visão de que esses sintomas dependem, em certo grau, dos fatores sociais e que, em sua ausência, ou os sintomas seriam interpretados como outra coisa, ou desapareceriam3.
Desconfio que a maior parte das pessoas que utilizam argumentos “tipo-Szasz” para falar de transtornos mentais se identificaria muito mais como construtivista; de fato, podemos dizer que Szasz era um construtivista para transtornos mentais, ainda que fosse um naturalista para doenças físicas. Existem algumas dificuldades na sustentação de um normativismo “puro”; por exemplo, se olhamos para casos históricos em que algo era considerado doença e deixou de o ser (p. ex., o caso da homossexualidade), tudo o que podemos dizer é que os valores daquele período histórico eram diferentes dos valores atuais, e não há nada que garanta que esses valores não mudem de forma contingente. Claro, normalmente isso é evitado ao se demonstrar que as concepções que temos de que algo é uma doença não são contingentes, mas determinadas pela organização social – e portanto todo juízo sobre doença/transtorno tem uma dimensão sócio-política e sócio-cultural.
A mim, em particular, interessa também saber que relação as afirmações normativas têm com as descrições de estado. No chamado “modelo social da deficiência”, por exemplo, existe a distinção entre lesão (que se refere a uma base biológica) e deficiência (que se refere às condições de valorização e desvalorização da lesão). Uma pessoa cadeirante só é deficiente porque (1) formas específicas de deslocamento são valorizadas ou desvalorizadas na nossa sociedade, e (2) essa desvalorização implica em não dar o suporte necessário para o deslocamento de pessoas que apresentam dificuldades de locomoção. Alguns ativistas, como Peter Beresford, propõem um “modelo social da loucura” semelhante. No modelo social da deficiência, a lesão representa uma base biológica, enquanto a deficiência é socialmente construída; de maneira semelhante, um “modelo social da loucura” entende a afirmação de que os manifestações de um transtorno mental podem apresentar uma base psicobiológica, mas que a atribuição dessas manifestações como sintomas está relacionada a escolhas sócio-política e sócio-culturais. Como aponta Shane Glackin, os sintomas são metafisicamente dependentes de uma neurobiologia, mas nossos juízos sobre o que é ou não desvalorizado, e sobre como damos atenção a essas demandas, são do tipo social. Em algum post futuro, pretendo desenvolver um pouco melhor minha posição sobre essa “dependência metafísica”, e como é compatível com uma saúde mental libertadora.
Notas:
- Szasz era essencialmente um liberal; contrapunha a normatividade do transtorno com uma normatividade universalista, que tomava a autonomia individual como bem máximo. Sua concepção de “autonomia individual” ignora a dimensão coletiva da autonomia, e assume um sujeito universal que é basicamente um homem burguês “pós-ideológico”. Sem ilusões aqui sobre qualquer suposto progressismo de Szasz. Mas isso não significa que argumentos similares necessariamente implicarão em uma posição política semelhante. ↩︎
- Essa crítica é semelhante à de Georges Canguilhem, que argumentava que a fisiologia, ao focar-se em órgãos e tecidos isolados, perdia de vista a integralidade da resposta organísmica, e esse era um dos motivos pelos quais o apelo à fisiologia não poderia sustentar um juízo avaliativo de doença. Claro, Canguilhem escreveu isso quase três décadas antes dos trabalhos de Szasz e Boorse, mas em um quadro de filosofia continental, o que dificultou sua assimilação nas discussões posteriores. ↩︎
- Kenneth Schaffner e Kathryn Tabb argumentam que existem dois tipos de construtivismo social constitutivo: o inclusivo, que assume que os fatores sociais são parte constitutiva das categorias construídas, mas não são o único fator; e o excludente, que assume que os fatores sociais compõem toda a categoria. Szasz, nesse sentido, seria um “construtivista social excludente” em relação aos transtornos mentais, e um naturalista em relação às doenças físicas. ↩︎
